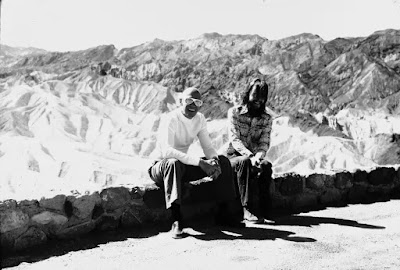Precisamos tratar as palavras para além da gramática e, antes da política, entendê-las pela história.
"Coisas que a gente se esquece de dizer
Frases que o vento vem às vezes me lembrar".
(Lô Borges e Ronaldo Bastos, O Trem Azul).
"Em vão me tento explicar, os muros são surdos.
Sob a pele das palavras há cifras e códigos."
(Carlos Drummond de Andrade, A flor e a náusea).
Atenção!
O cerne deste manifesto é o de que precisamos tratar as palavras para além da gramática e, antes da política, entendê-las pela história.
A ideia meio irônica do "historicamente correto" é esta mesma: uma mera provocação para chamar a atenção para algo mais importante do que a busca por nomes de fantasia.
Na linha do que defendia a grande historiadora Emília Viotti da Costa, "o trabalho do historiador é sempre um diálogo entre o passado e o presente". Na análise sintática deste manifesto, o que sustenta "passado" e "presente" é a palavra-chave "diálogo".
Pessoas aprisionadas e submetidas a trabalho forçado
Tem ganhado espaço a treta de recriminar pessoas que usam a palavra "escravo", ao invés de "povos escravizados". Mesmo que se argumente que um povo escravizado se torna, obviamente, escravo.
No final das contas, as expressões se equivalem, mas diz-se que a expressão "escravo" seria racista por não deixar claro que essas pessoas foram levadas a tal condição de forma violenta.
Em tempos de extrema direita rampante, de fato faz sentido explicar, mesmo que seja óbvio ululante, que ninguém torna-se escravo voluntariamente. Escravo não é carreira nem vocação, embora a extrema-direita e seu libertarianismo insistam que tudo na vida se resume a escolhas pessoais. Bem ao contrário, as pessoas são forçadas a tal condição e violentadas sistematicamente. Grilhões nunca foram adereços ou bijuterias. Ser chicoteado, naquela circunstância, não era fetiche.
Só que a troca de "escravo" por "povo escravizado", solução importada dos Estados Unidos na década passada (a moda até que demorou a chegar por aqui), arranha, mas não resolve o problema, por uma razão igualmente óbvia.
O vocábulo "escravo" descende etimologicamente da palavra "eslavo". "Eslavo", assim como "índio", foi uma denominação antiga e genérica sobre povos bastante diversos, como russos, ucranianos, tchecos, cazaques, turcomenos, sérvios, croatas, bósnios, búlgaros, entre outros.
Trocar "escravo" (literalmente, "eslavo") por "escravizado" (ao pé da letra, "eslavizado") é pouco além de eufemismo. A raiz do problema continua lá. Os eslavos, assim estigmatizados, continuam agrilhoados à raiz da palavra. Se falar "escravo" é racista, se deveria morder a língua ao falar, desavisadamente, em "povo eslavizado".
Se quisermos mesmo temperar nosso discurso com algum radicalismo (e tomo aqui a palavra em seu melhor sentido), seria bom pelo menos sabermos lidar com os radicais dos vocábulos, antes de simplesmente cancelá-los.
A dica é que os debates sobre escravismo, escravidão e escravização discutam a historicidade do termo, expondo os processos que engendraram o aprisionamento de pessoas submetidas ao trabalho forçado e vendidas no mercado - pronto! Eis o nome e sobrenome da coisa, se quisermos mesmo exorcizar uma palavra impregnada por uma longa trajetória e que merece um tratamento mais criterioso.
Os pioneiros
Quando fiz minha graduação em história, nos anos 1980, já havia caído em desuso chamar alguns povos de "primitivos". Era considerado preconceituoso, depreciativo, estereotipado. Veio naquela época a ideia de trocar essa expressão pela de "povos originários".
Eu tinha uma sensação dúbia em relação a isso. Confesso que nutria uma certa afeição pela palavra "primitivo" tanto pela arte primitivista quanto pela expressão "comunismo primitivo", que Marx e Engels usaram para qualificar povos que viviam sem propriedade privada, sem Estado e tendo sua sobrevivência garantida pela caça e coleta.
Passei a questionar por que do cancelamento de uma expressão que, literalmente, queria dizer, pura e simplesmente, "aqueles que vieram primeiro". Eram os que viveram o que não vivemos; que estavam quando não estávamos. Eram e são nossos ancestrais, nossos parentes, nossos "primos".
Os arqueólogos mostraram que nossos povos estavam mais para primitivos do que para originários. Eles eram descendentes daqueles que foram os primeiros a aqui chegar, mas originários de outros lugares.
Podemos nos referir a eles como "os primeiros povos que por aqui chegaram" ou, simplesmente, "os pioneiros". É algo totalmente autoexplicativo e incapaz de ofender alguém - pelo menos, por enquanto. Mas podemos também enfrentar um debate em torno do que se entende por "primitivo". É um bom teste para verificar com que gramática algumas pessoas raciocinam.
Silvícola
Ainda nos anos 1980, apareceu uma conversa de que não podíamos chamar ninguém de selvagem. Era um cuidado providencial para com uma expressão carregada.
Todavia, selvagem quer dizer quem vive na selva, quem tira da selva seu sustento, quem da selva faz seu meio de vida. Um eremita é um selvagem. Um Yanomami, idem. A selva é tudo. Sua vida e sua morte. Nisso não existe demérito.
"Silvícola", uma palavra que caiu em desuso, por alguma razão misteriosa, fazia essa distinção de forma ainda mais patente.
De todo modo, quando li Rousseau e sua tese ou mito (me desculpem pela palavra tão deturpada ultimamente, mas que haveremos de resgatar) do bom selvagem, encontrei uma bela defesa de que nem selva nem selvagem eram um problema.
A oposição entre "selvageria" versus civilização caía por terra, graças a um filósofo de peso. Ficava cada vez mais evidente que não havia nada mais predatório do que aquele tipo de civilização que fez Rousseau abrir os olhos, dele e os nossos. Como diziam os Paralamas do Sucesso, justamente na música "Selvagem", "o espanto está nos olhos de quem vê o grande monstro a se criar".
Minha fase rousseauniana não durou muito, mas decantei a ideia de que "selvagem" e "civilizado" não querem dizer, necessariamente, algo bom ou ruim. Viver na selva e da selva não diz nem se você é um Kaingang nem se é o Anhanguera ("diabo velho"), o predador que também se aculturou dos hábitos selvagens (de como viver na selva, da selva e dos povos que lá estavam) para melhor explorar e dizimar todos os que apareciam à sua frente.
Esses povos têm nome
Os índios das Américas ganharam esse apelido meio que por engano, desde quando espanhóis e portugueses aportaram por estas bandas achando que estavam alcançando a costa Oeste da Índia. Esse oeste dos navegadores tinha como referência seu próprio continente. A tal Índia que encontraram, por malandragem do genovês Cristovam Colombo, tornou-se "Ocidental", em distinção a uma Índia dita "Oriental".
Mesmo depois que Américo Vespúcio deu um freio de arrumação e emprestou ao Continente o nome de América, os povos que vieram antes de nós ainda seguiram sendo apelidados de "índios".
No século XX, adotou-se um complemento redentor e ficou mais comum se ouvir falar de "povos indígenas". O acréscimo do "povos" manteve o péssimo hábito de tratá-los todos como de um mesmo saco de batatas, desobrigando-nos de chamar cada qual pelo seu devido nome. "Indígena" quer dizer simplesmente "nativo". Não designa especificamente ninguém.
Qual a dificuldade de aprendermos a nominar esses povos como Yanomami, Camaiurá, Mundurucu, Terena, Juruna, Pataxó, Tabajara, Aimoré e Potiguara, Tupinambá, Caeté, Mbayá - conhecidos no Brasil como Guaicuru -, Caiapó e Avá-Canoeiro? Ainda é menos do que os nomes de times de futebol que a maioria é capaz de decorar.
Vale lembrar que o nome Guaicuru, assim como dos antigos Tapuia, tinha sentido pejorativo - na origem - dado por povos que a eles eram rivais.
Mestiço
Em algum lugar do passado, surgiu a lenda urbana de que a palavra "mulato" era preconceituosa porque viria de "mula".
Etimologicamente, o parente mais próximo da palavra "mulato" é "muwallad", que vem do árabe. Tanto espanhóis e catalães quanto portugueses usavam expressões como "muladí", "muladita" e "muladi", tiradas de "muwallad". Isso muito antes de se colonizar as Américas. Uma pessoa "muwallad" era um mestiço de árabe com não árabe. Aliás, antes mesmo de os árabes ("mouros") conquistarem a Península Ibérica, mulatos e mulatas ("muwallads") eram mestiços de árabe com africana/africano.
Por sua vez, o latim "mulus", embora pareça assemelhado a mulato (como alvará, que é árabe, é assemelhado a Álvaro, que é germânico, e não têm qualquer relação entre si), não explica por que alguém transformaria "mulus" em mulato, e não em mulo e mula, simplesmente. Como se sabe, gente preconceituosa não se dá ao trabalho de colocar penduricalhos em palavras prontas que se prestem a xingamentos.
Darcy Ribeiro, no livro "O Povo Brasileiro", considerava os mulatos (exatamente assim denominados por nosso grande antropólogo) como um povo essencialmente brasileiro, desde o período colonial, na medida em que não eram mais nem portugueses nem africanos, mas mestiços nativos. Mas "O Povo Brasileiro" é um clássico cada vez menos lido.
Outro clássico, a música "Tropicália", de Caetano Veloso, chegou a ser cancelado por um bloco de carnaval por ter um verso que se referia aos "olhos verdes da mulata". Caetano invocou lugar de fala ao se reivindicar mulato e filho de mulato, mas nada disso funcionou muito para lhe conferir salvo-conduto.
"Mulato" acabou até mesmo oficialmente substituído pela denominação "pardo". Pelo menos em termos demográficos e por convenção do IBGE, a população negra é composta por pretos e pardos. Mas foi Pero Vaz de Caminha, em 1500, que pela primeira vez usou a expressão "pardo" por estas terras, ao dizer, sobre os Tupiniquim, que "a feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem-feitos."
Iluminar
Acredite se quiser, pessoas que fazem uso do verbo "esclarecer" já foram repreendidas por ser essa, supostamente, uma expressão racista. Para livrar-se da pecha, elas são orientadas a substituir esse verbo por "escurecer". Isso mesmo. Vamos, a partir de agora, "escurecer um assunto", "escurecer uma dúvida".
A noção de "esclarecimento" é uma das mais antigas da filosofia e da educação. Ela tem relação direta com o mito da caverna de Platão. O conceito vem de uma história: a de tirar pessoas de uma caverna e trazê-las ao sol para que consigam ver algo mais do que apenas vultos.
Toda a tradição "iluminista" retomou a ideia de esclarecimento e fez oposição à fase apelidada de Idade das Trevas. A Idade Média ganhou esta má fama de forma igualmente injusta, mas a oposição histórica e filosófica entre luz e trevas, neste caso específico, está longe de qualquer embate de cunho racial.
Portanto, antes que você peça desculpas por "esclarecer" algo e caia na tentação de "escurecer" uma ideia, prefira iluminar ou explique, de uma vez por todas, o mito da caverna.
Bárbaros e Bárbaras
Uma das palavras mais antigas a destilar preconceitos foi "bárbaro". Em grego, "bárbaro" vem de balbuciar, gaguejar. Ao que tudo indica, surgiu de uma onomatopeia de sílabas repetidas ("bar-bar-ro").
O bárbaro era o estrangeiro que, ao não ter fluência e tropeçar na língua grega, confessava sua origem "estranha" (aliás, vem daí a palavra "estrangeiro").
Com o tempo, o jogo virou. Bárbaro tornou-se adjetivo elogioso, com o sentido de estupendo, extraordinário. Daí passou até a figurar em nomes próprios. As Bárbaras estão aí para comprovar.
Adjetivos ou diálogo?
Nem tudo que é dito e tido como errado merece, simplesmente, cancelamento. Carece, antes, de uma explicação, de uma boa história. Do contrário, nem crítica é. Vira um jogo de convenções e desinformação. Uma espécie de terraplanismo linguístico.
O maior risco é o de se construir novos mitos, urbanos ou dourados, que supostamente espantam qualquer maldade ou opressão. Uma espécie de espantalho ou pó de pirlimpimpim. Longe de resolver um problema, parece uma tentativa de varrer para debaixo do tapete uma parte da trajetória humana que está impregnada de preconceitos que precisam ser expostos e enfrentados, e não esquecidos.
Nos anos 1980, Terry Eagleton, em suas críticas demolidoras ao pós-modernismo e ao pós-estruturalismo, os acusava de escamotear um debate que deveria ir além da semântica e da semiótica. Para Eagleton, essa geração, incapaz de mexer com estruturas do poder, achou melhor "subverter as estruturas da linguagem".
Na década seguinte, o caldo já havia entornado por completo e ganhado uma versão mais popular, ironicamente apelidada de "politicamente correto". O sociólogo marxista jamaicano Stuart Hall, em um ensaio de 1994, alertava sobre as origens, virtudes e vícios de um movimento que ganhou força em meio a temáticas essenciais.
A tomada de consciência pessoal e o debate identitário podiam dar ainda mais concretude à compreensão das relações de classe, mas Hall apontava para os riscos de uma captura do que, antes, havia de arejado e inovador nessa tomada de consciência.
Uma outra face começou a capturar esse debate. Travestido de vanguardismo, imperava um moralismo rasteiro. De quebra, um anti-intelectualismo de bolso servia de pretexto para brandir desinformação.
De uma boa provocação ao debate, chegava-se ao ponto de se ver posturas do tipo "eu não quero aprender nada vindo de você". Ao invés de mentes abertas, portas fechadas.
Dispensando a necessidade de recorrermos a qualquer neologismo, o nome disso é "chauvinismo" ou, quem sabe, "neochauvinismo", para refrescar uma palavra hoje não tão badalada quanto no século XIX.
Nicolas Chauvin foi soldado do exército napoleônico. Sequelado e indignado, ganhou fama como símbolo de uma França sofrida, mutilada, de joelhos, derrotada, humilhada, oprimida, mas que respondia a essa condição de modo inconformado, o que é bom, mas com discurso de ódio e hostilidade a qualquer outro ponto de vista que não fosse francês, o que é extremismo tosco. Além de xenófobo (o medo a quem é "estranho"), Chauvin era um lacrador. Sua lacração o transformou em adjetivo - "chauvinista".
Não se deve usar politicamente qualquer termo de forma desavisada e nem enviesada, tóxica. O antídoto é explicar a história que forjou aquela palavra, desde sua origem, e a trouxe hoje naquele estado, às vezes, lastimável. É uma pena que nem sempre alguns tenham a chance ou que muitos nem se deem ao trabalho de explicar e historiar o que falam e escrevem.
Tenhamos a devida paciência e atenção para ouvir e aprender com quem tem de fato algo novo a falar, e também com a legião de lacradores que se candidatam diariamente a virar verbete de dicionário, na classe dos adjetivos.
Afinal, essas pessoas estão em nossas salas de aula, no ônibus, nas mídias; são parentes, amigos, celebridades ou pessoas que mal conhecemos. Em todos os casos, existe alguma razão digna de respeito até mesmo para que estejam tão convictamente equivocadas. Precisamos entender… para explicar.
* Antonio Lassance é historiador, mestre e doutor em ciência política.
O Brasil precisa de uma opinião pública melhor informada, atenta e democrática.
As manifestações presentes neste blog são de caráter estritamente pessoal.
Para seguir o blog e receber postagens atualizadas, use a opção "seguir", ao lado.




.jpg)